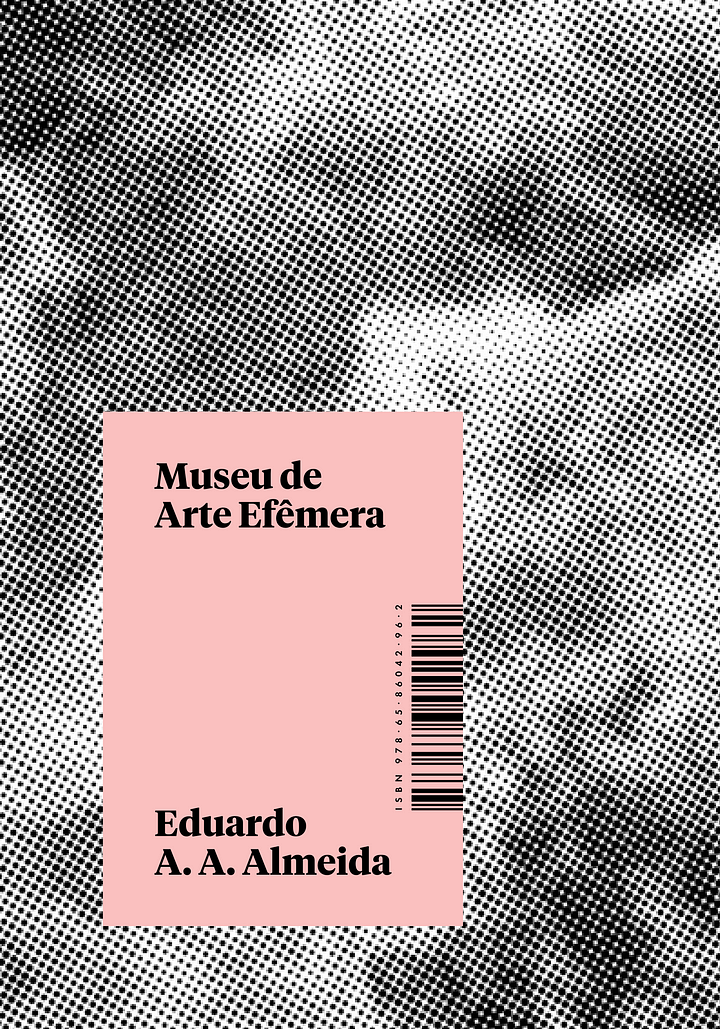Não sei se existiu um momento específico. Ela veio chegando e, quando percebi, já estava. Mas com certeza veio chegando pelas leituras. Sou leitor convicto muito antes de ser escritor, e tenho lembranças bastante antigas, da minha primeira infância, já acompanhadas de livros. Depois, as histórias em quadrinhos vieram se somar às leituras frequentes. Meio que naturalmente tive o desejo de escrever, em parte estimulado por atividades escolares. Produzi alguns livrinho assim, na época. Foi importante para começar a pensar como funcionava o outro lado do balcão. E os escritos passaram a me acompanhar também, junto das leituras. Eu escrevia minhas próprias histórias e copiava frases, parágrafos, trechos de livros de que gostava. Isso tudo sem qualquer pretensão de me profissionalizar, eram hábitos de um leitor apaixonado, que tinha nos textos um prazer e uma forma de expressão. Segui assim por bastante tempo, fiz alguns cursos, passei a ler sobre o ofício e a escrever textos mais longos. Então, comecei a estruturar obras de ficção propriamente ditas, inaugurei uma coluna em jornal, escrevi publicidade, criei meu blog. Comecei a ter o desejo de vir a público. Só depois, bem depois mesmo, com mais de década já trabalhando como redator é que consegui me assumir escritor. Foi um marco importante. Eu me lembro da primeira vez em que coloquei isso em voz alta, durante minha apresentação pessoal no início de um curso, diante da classe cheia: meu nome é Eduardo, sou escritor. Falei meio tímido, aquilo soava estranho para mim, mas verdadeiro. Eu já tinha passado dos trinta anos de idade.
2. Como a escrita impacta sua vida cotidiana e suas relações pessoais?
Bom, eu vivo da escrita há bastante tempo, então ela impacta praticamente todos os aspectos da minha vida. Minha rotina de trabalho, meus alunos, clientes e amigos, meus colegas de ofício nas áreas de redação, comunicação, edição, revisão, criação literária, pesquisa, assessoria para projetos, docência, crítica, enfim, todos os serviços que ofereço estão relacionados com a escrita. Mas é claro que tenho vários outros interesses: música, viagens, gastronomia, ciência, artes visuais... Interesses que, no fim das contas, acabam alimentando aquele primeiro. À sua maneira, tudo se conecta.
3. Como você descreve seu processo de escrita? Você segue uma rotina ou escreve quando sente inspiração?
Sei que você se refere ao processo de criação literária, mas eu entendo a escrita num sentido mais amplo, no qual a literatura é apenas uma fatia. Isso implica ter processos bastante variados. E digo isso para desmistificar certa aura de escritor que ainda assombra muitos aspirantes. Escrevo por demanda, por necessidade, por vontade própria, contra a minha vontade, por obrigação ou por prazer ou por ambos. É assim que produzo roteiros, dramaturgias, comunicações, ensaios, relatórios, críticas, livros etc. Pensando especificamente na literatura, em geral eu deixo a guarda baixa. Passo meses sem escrever nada, quando o foco está em outras atividades. Mas, por razão quase sempre desconhecida, algum assunto ou ideia atiça o desejo e abre espaço na minha rotina. Então eu passo a me dedicar àquilo. Em geral, isso acontece quando tiro férias e as demandas do dia a dia ficam menos exigentes. Quer dizer, sem muito método ou consciência, vou gestando ideias ao longo do ano, tomando notas, imaginando possibilidades, esboçando projetos. E quando aparece um momento mais longo de ociosidade, a coisa me toma e ganha forma. Eu não chamaria de inspiração. Diria que as criações literárias vão me acompanhando, pedindo atenção, até a hora em que de fato eu posso acolhê-los devidamente. Esses ímpetos criativos são raros e tortuosos. Tenho mais apreço pela reescrita, pela lapidação, que é, ao meu ver, de onde vem a qualidade literária.
4. Você pode contar um pouco sobre seu livro mais recente?
Em meados de 2024, a editora Laranja Original publicou o meu “Museu de Arte Efêmera”. Ele contém três histórias distintas que trazem em comum a temática da memória. A memória como forma de elaborar a vida, como marca traumática e como resistência diante do esquecimento. Esses textos eram, a princípio, peças de teatro que escrevi durante minha passagem pelo Núcleo de Dramaturgia do SESI / British Council. Alguns anos depois, percebi que elas poderiam se apresentar juntas. E para isso, quer dizer, para que deixassem de ser dramaturgias autônomas e se tornassem um livro de prosa ficcional, eu retrabalhei os textos. Foi necessária uma adequação de linguagem bastante radical. E o resultado é algo que por vezes se aproxima da poesia, outras vezes da prosa, outras, ainda, dos palcos. Na falta de termo melhor, o livro se classifica como uma reunião de contos. O primeiro deles, chamado “Luminescências”, traz algo do teatro do absurdo para falar sobre violências de mulheres e homens no dia a dia. O segundo, “Eterno Retorno”, fala de um sujeito que não consegue se livrar nem assumir a culpa de ter provocado um acidente de automóvel. Por fim, “Museu de Arte Efêmera de Lethe” traz um diálogo com a tragédia clássica ao falar de uma menina afogada, da qual ninguém consegue se lembrar, e com isso traz à tona outras histórias de violência também esquecidas; é um embate entre o fardo de recordar e as consequências de ignorar as tragédias que nos afligem.
5. Qual foi o momento mais gratificante ou emocionante da sua carreira até agora?
Quando Henrique Rodrigues, então coordenador do Prêmio Sesc, me telefonou para informar que eu receberia uma Menção Honrosa pelo original do romance “Diante dos meus olhos”. Eu não tinha nenhum livro solo publicado até aquele momento, e já trabalhava nesse texto havia vários anos. Foi emocionante receber a notícia. Também fiquei entusiasmado com a possibilidade de finalmente publicá-lo, coisa que, apesar de tudo, só aconteceu três anos depois, com a seleção do projeto num edital da Prefeitura da Cidade de São Paulo.
6. O que você acha do mercado literário atual? Que mudanças você gostaria de ver?
Tenho impressões que talvez vão na contramão do que costumamos ouvir por aí. Eu adoraria que o Brasil fosse um país de mais leitores, sem dúvida. Mas vejo quase sempre as pessoas discutindo números e quase nunca a qualidade do que se produz e lê. Imagino que nunca se produziu tanta literatura quanto atualmente, e isso se amplia de maneira considerável se formos além dos livros para os blogs, redes sociais, plataformas digitais de autopublicação etc. Contudo, a qualidade dos textos é, de maneira geral, medíocre. Por que ler textos ruins em vez de ouvir música, assistir cinema, pedalar, comer uma pizza com os amigos? Quer dizer, como brigar com essa concorrência? As opções de atividades socioculturais e até mesmo de teor estético são diversas, enquanto o tempo para nos dedicarmos a elas é escasso. Por sua vez, temos inúmeros interessados em escrever e, principalmente, em publicar, seja qual for a fantasia envolvida nisso. E mesmo assim conheço poucos autores que de fato estão empenhados no ofício, estudando, reescrevendo, burilando, participando de discussões, enfim, tentando se aprimorar. Porque a escrita é exigente. Viver de escrita é muito mais. Não é algo que se edifica de um mês para o outro. Como criar algo genuíno, consistente, digno de nota? Nesse sentido, me preocupa menos a quantidade e mais a qualidade dos escritores e dos leitores. Se você observar os ditos formadores de opinião (youtubers, influenciadores, chame como preferir) dedicados aos livros, a grande maioria não passa da superfície; são mais comunicadores do que leitores de fato. Leem os mesmos livros, têm as mesmas impressões, reproduzem os mesmos lugares comuns. Trabalham o livro como produto de consumo, e só. Acho bastante triste. Não é isso que me interessa na literatura. Do mesmo modo, acho bastante triste editores e editoras reclamarem do mercado, mas continuarem atuando de maneira pouco profissional, sem pagar direitos autorais, sem prestarem contas aos autores, sem qualquer plano de marketing para fazer os livros encontrarem seus leitores. É tudo bem precário, caseiro, desrespeitoso. Diz-se que ficou fácil publicar hoje em dia. Sem dúvida, basta contratar serviços gráficos e editoriais que seu livro será impresso. E de certo modo os editores vão se tornando tiradores de pedido. Mesmo em editoras que não cobram dos autores para publicar seus livros, sinto que a responsabilidade pelas vendas ainda recai sobre eles, como se a tarefa do autor fosse, além de escrever, escoar os exemplares. Vivemos uma situação complicada. E enquanto os próprios agentes desse mercado não se profissionalizarem, novos leitores não virão. Em suma, eu gostaria de ver autores mais profissionais, cientes da sua responsabilidade com as palavras e com a criação artística, dominando os ossos do ofício; editores mais profissionais, aprimorando a qualidade das publicações, formando leitores e fazendo os livros chegarem aos interessados; e leitores melhor capacitados, que apreciem as obras além do enredo, do nome famoso na capa, da modinha, enfim, capazes de viverem uma experiência estética profunda com a arte da palavra. O livro como simples distração pode ser trocado por outra, sem grandes prejuízos para o leitor ou para a arte da literatura; só prejudica mesmo o tal mercado literário. Todavia, o livro como algo vital não tem substituto. Como fazer isso tudo se realizar? Não tenho resposta, infelizmente. Nem acho que a resposta é simples. Acredito, porém, que nos falta um projeto de Estado consistente para a área da cultura. Algo que vá além de iniciativas pontuais de governo, mas que ouse e trabalhe com um objetivo grandioso, de longo prazo, valorizando a produção nacional, cuidando de todas as camadas envolvidas e transformando a educação das pessoas. Sinto que não estamos nem perto de ver isso acontecer.
Foram inúmeros acontecimentos e esforços até ver meu trabalho publicado, então o sentimento foi de realização, satisfação, alegria. Foi também a afirmação de que era possível, de que a luta tinha valido a pena. Eu tinha conquistado um lugar importante na minha trajetória profissional. Fiquei sem caber em mim.
8. Você está trabalhando em algum novo projeto atualmente? Se sim, pode contar um pouco sobre...
Eu tenho trabalhado em alguns contos, pensando que eles comporão um novo livro. Quero fazer uma homenagem às histórias de suspense e terror que eu lia na juventude, e que foram importantes na minha formação. Mas ao mesmo tempo quero produzir algo singular, explorando um sentimento de horror mais sutil, se é que isso existe. Horrores que se banalizaram e que já não espantam, não surtem efeito nas pessoas, mas que nem por isso deixam de ser horríveis e, assim, deveriam ser intoleráveis. Não mais aquele horror da alegoria, das lendas e mitologias, mas o horror presente no nosso dia a dia, que se apresenta o tempo inteiro diante de nós. Também tenho me dedicado a explorar as possibilidades do diálogo, em especial os não ditos que se ocultam nas palavras expressas. Venho buscando criar diálogos que falem além das palavras, e isso com o mínimo de palavras possível. É uma experiência que tem me mobilizado a escrever. Tenho alguns textos adiantados, esboços, ideias ainda insipientes. Vou escrevendo sem pressa. Estou deixando o projeto maturar.
9. Para você, escrever é...
Um caminho entre muitos outros. Mas o caminho que escolhi. Ou talvez seja o caminho que me escolheu e me fez caminhante.